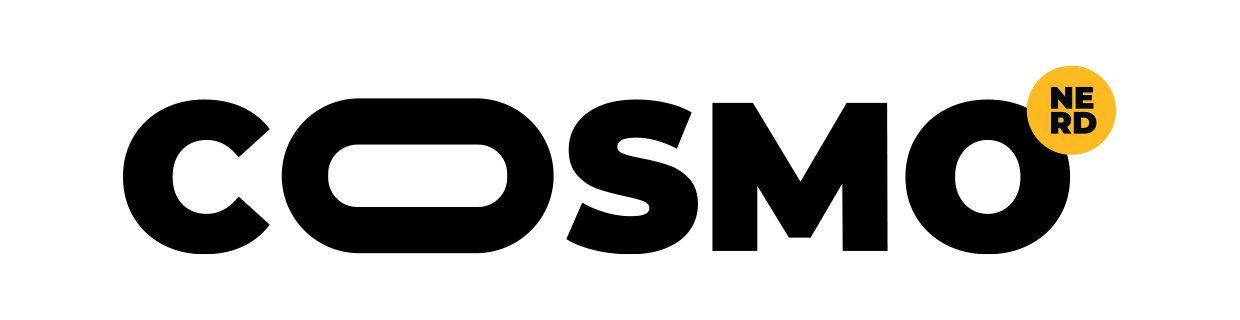Em 2018 chegava aos cinemas a cinebiografia da banda Queen e de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, filme que levou uma legião de fãs do rock às salas de cinema e rendeu paradas nos aplicativos de música, além um Oscar de melhor ator para Rami Malek — decisão questionável. Fato é que uma nova safra de longas com a temática de artistas e bandas parece ter surgido. Posteriormente a Bohemian Rhapsody, tivemos o excelente Rocketman, de Dexter Fletcher e com Taron Egerton como Elton John, e, esse ano, Baz Luhrmann traz ao cinema o mais distinto dos dois já citados: Elvis, a cinebiografia do Rei do Rock n’ Roll.
Como fazer uma cinebiografia de um jeito menos comum mas que também não fuja muito do lugar confortável dos espectadores? Foi uma pergunta que pulou na minha cabeça durante a sessão de Elvis e, ironicamente, ao mesmo tempo eu estava assistindo a resposta que buscava. Inegavelmente, Baz Luhrmann é um diretor de assinatura, excêntrico e elegante em diversos aspectos de sua filmografia, vide Moulin Rouge.
De primeira vista, nos primeiros minutos de projeção, já somos confrontados com a mão pesada da direção, principalmente nos requisitos de edição e som do filme. Várias transições rápidas, giros de câmeras, imagens divididas na tela e diversos mashups de músicas no fundo junto ao voice over do personagem Coronel Parker (Tom Hanks). O espectador já é colocado numa situação de desconforto e de urgência logo no começo, é bastante claustrofóbico. A narrativa usa esse recurso para passear entre passado, presente e parte do futuro do personagem Elvis (Austin Butler), rapidamente dando uma explicação de onde nasceu o amor pela música do astro do rock, em uma sequência fantástica aliada a uma edição totalmente levada em organismo com a música, no qual existe uma introdução sólida do cerne da força motriz do filme.
Algo interessante de notar durante o longa é que, em um determinado momento, a edição que outrora era rápida e frenética fica lenta e mais compassada, como se com o passar do tempo de filme fosse acontecendo um amadurecimento natural junto com a idade de Elvis. A jovialidade, o novo, a rebeldia, tudo isso é regado a muita agitação e, conforme a maturidade chega, vem a sabedoria, a calma, o pensar duas vezes. Apesar momentos bastante impactantes, em seguida sempre vem uma cena ou uma sequência que traz um respiro para o frenesi, ganhando um ritmo e não simplesmente perdendo o andar da carruagem, mostrando que existe uma progressão desse andamento.
Embora a edição de som seja primorosa, sempre misturando músicas famosas da época junto com as músicas hits do próprio Elvis, existe uma certa modernidade, por assim dizer, que destoa bastante do resto da obra. Baz Luhrmann faz enxertos de músicas de pop famosas em certas sequências e, apesar delas casarem com o ritmo da edição, não parecem pertencer àquele ambiente, principalmente depois de ouvir músicas da própria época – existe um parâmetro temporal consciente que cria essa dissonância, mas o filme não parece pedir isso nos momentos em que isso acontece durante a projeção. O que torna tudo apenas…estranho.
No que diz respeito ao design de produção, cinematografia e figurino é tudo muito casado entre si. É tudo muito, mas MUITO vivo. Quase como se o cenário falasse — nesse caso, cantasse — junto com o todo. As cores não são apenas saturadas, elas são vibrantes e geram uma cacofonia boa — se é que isso existe — ao visual, que sempre remete ao look excêntrico e exagerado de Presley. O figurino era uma parte ESSENCIAL para a construção desse filme, sobretudo no que diz respeito ao seu protagonista. A indumentária de Elvis foi sempre algo que esteve em destaque quando se trata da sua figura histórica, e a representação é impressionante, é quase que teatral o desenho dos cenários junto do figurino.
Contudo, mesmo com cenários tão vívidos, a mão do CGI pesa bastante em algumas cenas mais grandiosas, e claramente dá pra perceber que é computadorizado. Aqui, o uso de sombras e de spots mais escuros para disfarçar é bastante usado como recurso. Porém, não chega a nos desconectar do filme por conta da hábil de direção, que sabe exatamente para onde guiar o nosso olhar.
Aliadas a isso tudo estão as performances incríveis de Austin Butler e Tom Hanks. Austin entrega uma representação bastante fidedigna do Rei do Rock, e a primeira vez que escutamos o vozeirão é quase como estar ouvindo o próprio Presley. Os trejeitos, a dança, o jeito de segurar a guitarra/o violão, é quase uma xerox colorida da figura de Elvis. Já Hanks dispensa qualquer comentário, entrega um personagem com caráter bastante dúbio e dono de uma frieza que só um empresário egoísta detém, a ponto de não sabermos se tal hora o odiamos, ou se o amamos, e sempre com um olhar que perscruta a alma.
Elvis é o filme mais autêntico dessa nova leva de cinebiografias de músicos e bandas que temos tido nos últimos 4 anos. É polido, mas sabe onde apertar o calcanhar nos pontos importantes da vida do astro do rock. É bonito, com uma fotografia que evoca todos os pontos positivos do seu design de produção, sempre pondo o filme pra cima e contrastando com momentos tristes, felizes e agitados. Se um dia passou na nossa cabeça que o Rei do Rock n’ Roll seria esquecido… Bem, estávamos enganados.