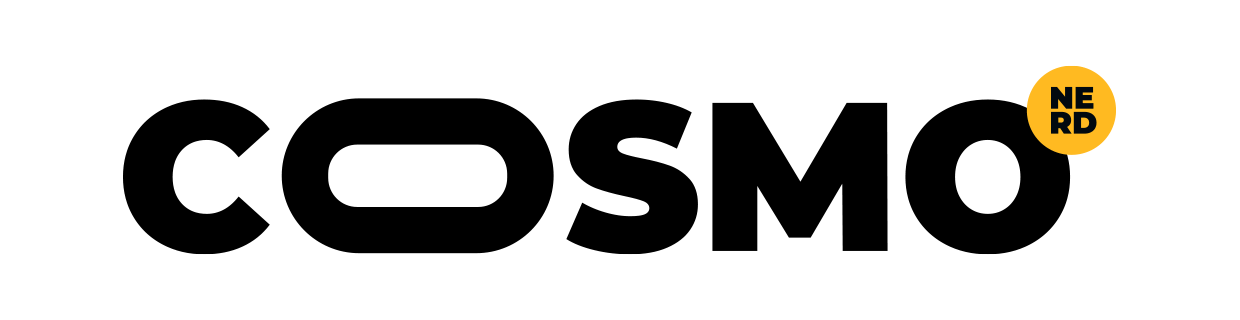Por mais que muitos ainda tentem negar, numa esperança claramente ilusória, política e cultura pop estão intrinsecamente ligadas. Ano passado, antes das necessárias manifestações do Black Lives Matter que tomaram as ruas do mundo, Watchmen já apresentava sua crítica sociopolítica através dos personagens em tela. Já em 2020, a segunda temporada de The Boys também abordou temas bastante atuais. Dito isso, Lovecraft Country é, em muitos aspectos, muito mais do que apenas uma série de terror. E mesmo com alguns deslizes, é uma produção extremamente necessária.
Baseada no livro escrito por Matt Ruff, a trama acompanha o jovem Atticus Freeman (Jonathan Majors) veterano da Guerra da Coréia que retorna para Chicago em busca de seu pai Montrose (Michael K. Williams). Com ajuda de seu tio George (Courtney B. Vance), um escritor do Green Book – guia de viagem segura para negros na América das leis Jim Crow – e da ativista e amiga de infância Leti Lewis (Jurnee Smollett), Tic usa uma carta como ponto de partida para sua jornada.
É extremamente gratificante acompanhar a evolução da série ao longo de seus episódios, saindo de uma premissa de referências literárias para um mergulho profundo e didático no racismo e na violência dos EUA dos anos 50. Traçando ainda paralelos com tudo que presenciamos atualmente. A showrunner Misha Green faz muito mais que inverter as expectativas dos fãs de H.P Lovecraft, ela consegue de forma natural colocar os elementos fantásticos à serviço da história de seus personagens. O formato quase de semi-antologia permite um passeio por temas e estruturas diferentes. Evitando uma linearidade que certamente podaria a criatividade da atração. Lovecraft Country, durante a maioria dos episódios, não se permite cair na obviedade.
Basta ver a forma como a magia é abordada, longe do glamour de outras produções. Tudo é bastante sujo, geralmente dependendo de condições nefastas para que seja utilizada. O primeiro contato de uma criança com esse elemento, no caso Dee (Jada Harris), é absurdamente traumático. Outro aspecto interessante é a maneira como os protagonistas são repletos de camadas, algumas pouco agradáveis. Isso torna o exercício de torcer por eles menos automático que o padrão já estabelecido. Aliás, a maior riqueza de Lovecraft Country reside em seus personagens.
No entanto, toda essa ousadia acaba por cobrar um preço na reta final. Embora seja uma experiência incrível assistir a mistura de elementos fantasiosos da literatura pulp com o choque de realidade proposto pela trama, Misha precisa pisar no acelerador para concluir o trabalho. Isso cria a sensação de duas séries diferentes especialmente do meio para o final. Sendo justamente o encerramento o ponto menos inspirado. E mesmo os episódios mais comuns, analisados de maneira individual, ainda são bons. Porém, no contexto geral, acabam tirando muito da força da série. Além da subutilização de determinados personagens apenas para que os mesmos surjam como ex machina nos momentos cruciais.
Outro aspecto que joga contra Lovecraft Country é sua vilã. Por mais que a segregação racial e a hipocrisia do sistema sejam os principais males, existe a necessidade de condensar isso em um personagem. E Christina Braithwhite (Abbey Lee) não necessariamente se encaixa nessa questão. Longe de ser uma santa, ela tinha seus próprios objetivos que por obra do destino esbarravam no grupo de protagonistas. Talvez a opção de escolher um de seus familiares assumidamente racistas casaria melhor com a proposta. E ainda que sua morte seja celebrada, ela tira o peso da jogada final arquitetada pelos heróis.
Lovecraft Country não é perfeita, mas é extremamente eficiente na construção de sua proposta. Muito além do valor dramático e artístico, existe uma mensagem poderosa sendo transmitida em cada episódio. Resta a esperança de que essas palavras possam ecoar por muito tempo. Em um ano bastante movimentado, a HBO consegue acertar novamente.