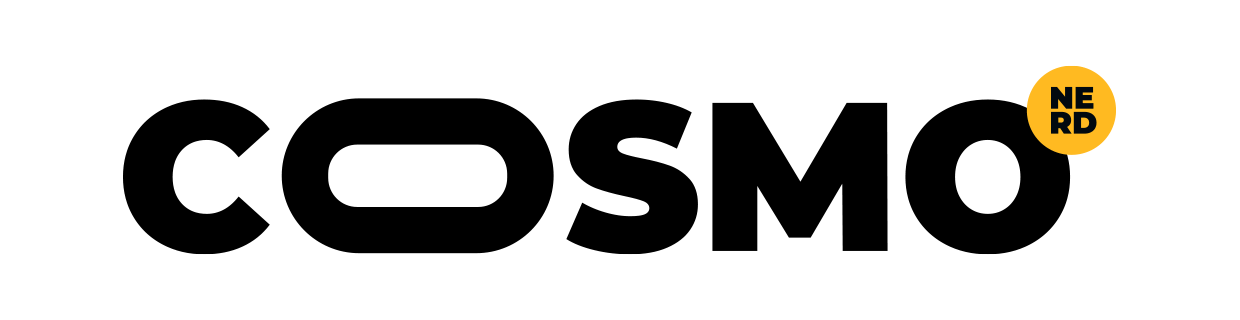Filho de Vernon Presley e Gladys Presley, Elvis Aron Presley, mais conhecido mundialmente como Elvis Presley, nasceu em 8 de janeiro de 1935, em Tupelo, Mississipi – mas seus pais se mudaram para Memphis ainda quando ele era criança. Sua família era muito religiosa (sul dos EUA, né), então o pequeno Elvis iniciou sua carreira de músico cantando em corais na igreja. Mal sabia ele que se tornaria uma das maiores referências musicais do mundo até os dias atuais.
O longa (leia nossa crítica), que o diretor não considera como sendo uma biografia, inicia de forma um pouco corrida, com transições de cena que lembram demais Moulin Rouge, outra obra de Baz Luhrmann, o que pode confundir algumas pessoas habituadas a um estilo narrativo menos intenso. O filme trabalha muito bem em cima do seu narrador não confiável, pois, enquanto ele conversa conosco, as imagens passadas nem sempre condizem com a versão do que está sendo dito.
Em outros momentos, a história também ficou corrida, porém, como tudo ali, serve a um propósito narrativo, com a intenção de contextualizar determinadas partes da vida do artista que não poderiam ser exploradas na trama com profundidade, mas que precisavam ser contadas para que o público geral entendesse certos detalhes que seriam importantes para compreender o que acontecerá em seguida.
O filme te joga desde o início em um lugar desconforto e isso segue até o último minuto, de forma que se torna cansativo de assistir, mas não por ser ruim, mas pela angústia gerada enquanto seguimos a história de Elvis.

Narrador não confiável
A primeira coisa a se destacar no filme é Tom Hanks no papel de Coronel Tom Parker, o empresário (insira palavrões aqui) que ajudou a desgraçar a vida do jovem Elvis. Não sei vocês, mas nunca imaginei que iria odiar tanto o pobre do Tom Hanks como eu odiei nesse filme. Ele te convence completamente no papel, a ponto de que as duas figuras meio que se misturam e você meio que vira aquele povo que bate em ator no meio da rua só porque ele é o vilão de alguma novela.
Logo no comecinho da história, Tom Parker avisa: ele quer nos convencer de que não é um malvadão que arruinou a vida do rei do rock, mas sim o herói que o levou aos holofotes e o entregou ao mundo. Sem ele, não teríamos Elvis Presley. Ao menos, não como o conhecemos. Ou assim ele diz.
Além disso, o exagero de algumas cenas, que são obviamente fantasiosas, vem da sua mente, como o momento da “primeira” apresentação de Elvis, em que mostra a reação do público feminino de forma bem cartunesca, com mulheres (de todas as idades) enlouquecidas de tesão ao verem a pélvis do rapaz se rebolando na frente delas, e, em um ato aprovado por Wando, elas jogam calcinhas nele.
Aliás, desde o começo ele se intitula como uma espécie de ilusionista, tentando indicar que sempre usou essa habilidade de mascarar a verdade e criar belas ilusões a favor de Elvis. Em certo ponto da história, as pessoas ao redor do cantor insistem que Parker está o manipulando e se aproveitando dele, e até mesmo é avisado por Priscila de que não deveria mais falar pessoalmente com o Coronel, porque ele sempre sabe o que dizer para fazê-lo mudar de ideia. E bate um nervoso muito grande perceber que Elvis acha que consegue vencer a teia de ilusões do ilusionista e sempre volta pro mesmo ponto: o de ser explorado.
De acordo com Tom Hanks, “O Coronel não seria nada sem o Elvis e Elvis não teria sido quem foi, sem o Coronel. Era um gênio diabólico”.
A relação entre astro e empresário, no filme, lembra muito um relacionamento abusivo, extremamente tóxico e desagradável que respinga em todo mundo ao redor. Elvis é exibido como uma pessoa impulsiva, rebelde, cheio de paixão e ambição, e é quase imparável, exceto pelas maracutaias que o Coronel inventa para manter o garoto na sua coleira. Ainda assim, ele escapa diversas vezes, e o empresário abre mão do truque mais sujo de todos: o de ameaçar ir embora, mas… Se ele for embora, o artista não terá (insira algo que parece grandioso). E esse iô-iô é muito bem trabalhado dentro do filme, com todo esse embrulho nos empurrando para um senso de urgência, de uma vontade que Elvis se liberte. Mas o alívio nunca chega.
Elvis como Rei do Rock e não como “gente como a gente”
A ilusão do Coronel começa cedo. Já conhecemos o jovem Elvis despontando a sua carreira de músico por meio do produtor musical de rhythm and blues Sam Phillips. Sua história de infância é contada muito rapidamente, por meio de uma mesclagem de imagens que mostram as primeiras referências musicais do rapaz, que mistura uma igreja só de negros e um cantor (negro) em um bar de “dirty dancing” (era um estilo de dança da época, em que parecia que os casais estavam fazendo sexo). E, nisso, estamos na “primeira” apresentação ao vivo de Elvis Presley, aquela em que as mulheres enlouquecem. Ou seja, de cara, somos jogados para os efeitos encantadores do rei do rock, caindo na lábia dele e do que ele quer que você acredite. E Austin Butler sabe vender muito bem o seu papel, a ponto de, em muitos momentos, acreditarmos piamente nele (já que sabemos, em algum nível, que Elvis não é um santinho, um coitado e tal).

O que a história nos entrega é o caminho do Rei do Rock, sem entrar exatamente na história do Elvis Aron Presley, o moço que veste o manto do músico. O que é interessantíssimo, pois temos diversas cenas demonstrando onde e quando Elvis consegue suas “inspirações” (por outro ângulo, podemos entender claramente como roubalheira) musicais, inclusive para dançar, pois “nenhum branco de respeito dançaria feito um negro”. Logo no começo, quando o Coronel ouve falar pela primeira vez de Elvis, ele comenta que não tem interesse no rapaz porque ninguém em sã consciência aceitaria um rapaz negro, e é quando um dos membros da sua equipe diz: ele é branco, atiçando imediatamente a curiosidade do futuro empresário de Elvis.
E essa frase, “ele é branco”, é algo que caracteriza imensamente a obra, pois, sem entrar no mérito de esforço e talento, o filme mostra claramente que Elvis conseguiu sucesso em cima da cultura negra. Não exatamente roubando, o longa não deixa isso claro, mas insinua uma forte inspiração ao ponto da cópia. Tem uma cena específica que foi feita como se fosse para não deixar dúvidas em relação a isso, em que Elvis vai a um bar no bairro de negros e lá tem um jovem cantando e performando a música “Tutti Frutti”. Presley comenta com B.B. King que adoraria gravar a música, ao que o amigo retruca dizendo que seria uma honra para o rapaz, principalmente porque Elvis conseguiria com ela tudo o que o autor original nunca conseguiria pelo fato de não ser branco. Além disso, a cena também enfoca no modo como o jovem toca piano e dança – passos que veremos no futuro como sendo do Rei do Rock.
Seus apoiadores afirmam que, graças a ele, os jovens da década de 1950 para cima começaram a enxergar com outros olhos a cultura afro-norte-americana, criando uma espécie de aceitação, que estava tudo bem para eles consumirem e gostarem desse conteúdo. Se o Rei do Rock o fazia, por que eles não? Na época, Elvis teria dito: “Muita gente diz que eu comecei o rock, mas o rock’n’roll já existia muito antes de eu aparecer. Ninguém consegue cantar essa música como os negros. Vamos falar a verdade: eu não consigo cantar como Fats Domino. Eu sei disso”. O que o filme deixa claro é: ser um homem branco com “voz e ritmo de negro” foi o que fez Elvis ganhar fama. E se ele foi racista ou não, não é algo que entra no mérito do longa. A história mostra, mas não dá uma opinião sobre isso.
O fato é que o filme brinca com perspectivas sobre o cantor, e sua principal faceta é do Elvis desumanizado, transformado em algo maior do que ele, e como sugaram cada gota que puderam desse endeusamento – principalmente seu empresário, que fez de tudo para ganhar em cima dele, roubando-o e manipulando-o. E, no fim, fica para você decidir: Elvis injustiçado ou nem…?