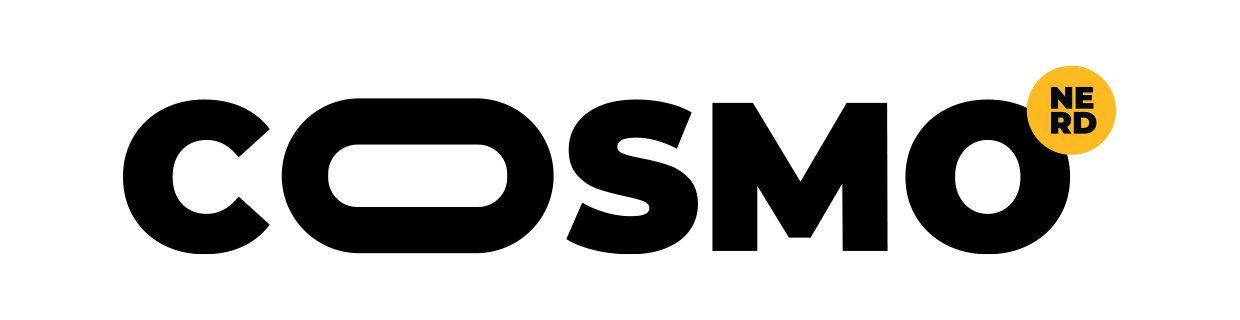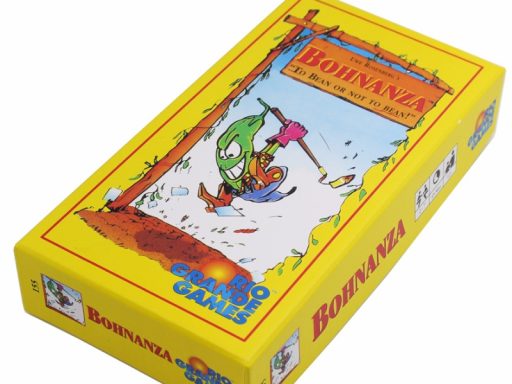Série da criadora de The Killing, Seven Seconds destaca tensões inter-raciais, corrupção na polícia e luta por justiça nos Estados Unidos da era Trump
Um homem dirige seu carro em um trecho cercado de neve nos arredores de New Jersey. Distraído por estar falando ao celular, ele atropela um jovem negro. Para ajudá-lo a resolver a situação, o homem, que logo descobrimos ser um policial, chama os colegas de departamento onde foi recém-ingressado. A solução dada pelo que se mostra ser o seu superior é de que ele abandone o local levando o carro. Eles iriam encobrir tudo para que o parceiro não prejudique a promissora carreira no papel de proteger e servir a sociedade.
Toda essa cena descrita acima é o que motiva o desenrolar da nova série da Netflix, Seven Seconds. Escrita por Veena Sud, mesma criadora do celebrado drama televisivo The Killing, a série traz ainda a direção de Gavin O’Connor, diretor com bons trabalhos no currículo, que já havia flertado com esse universo de “brodagem” dos homens da lei no filme Força Policial (2008).
Nesta nova produção, o que chama atenção em seu início é a presença ostensiva da Estátua da Liberdade ao fundo – que aparece como coadjuvante também em outros momentos ao longo dos episódios. Situada nos dias atuais, a história destaca o símbolo dos Estados Unidos como espécie de testemunha para contrapor a situação de seus principais personagens, todos enclausurados em suas prisões, que não são necessariamente físicas. Em determinado momento, o personagem de Isaiah Butler (Russell Hornsby), pai da vítima, questiona seu irmão Seth (Zackary Momoh), que voltou da guerra e também vive dramas particulares, dizendo não sentir liberdade ao redor. Um desabafo de um homem mergulhado em dor, vivendo uma fase de imenso conflito envolvendo suas crenças religiosas e a desaprovação com a forma como o filho conduzia a vida, que fez com que eles se distanciassem.
Com bastante ênfase na tensão inter-racial norte-americana, Seven Seconds não se priva em cutucar algumas feridas. Em diversos momentos, ela lembra o filme Dia de Treinamento (Antoine Fuqua), com o policial corrupto Mike DiAngelo (David Lyons) passando ensinamentos ao novato Peter Jablonski (Beau Knapp) de como as coisas devem ser. Para ele, as regras do jogo já estão estabelecidas e se você quer jogar, precisa se moldar a elas. E isso implica, entre outros delitos, encobrir erros da polícia para preservar a corporação, especialmente em um caso que traz um acidente cometido por um branco envolvendo um negro.

Do outro lado desse jogo, temos a jovem promotora KJ Harper (Clare-Hope Ashitey, de Filhos da Esperança). Também vivendo seus conflitos – a personagem é uma negra em busca de reconhecimento na profissão, vítima do alcoolismo, que vive se remoendo por erros do passado –, ela, junto com o detetive Joe ‘Fish’ Rinaldi (Michael Mosley), tornam-se a única esperança da família Butler obter algum tipo de justiça.
O que torna a narrativa ainda mais interessante é o seu cuidado em deixar tudo o mais verossímil possível. Assim como na vida real, todos apresentam camadas e até mesmo personagens que claramente mostram-se os grandes vilões da trama, revelam algum tipo de humanidade em certo ponto. Da mesma forma como nas vítimas da situação também podemos enxergar as imperfeições.
Com diversas reviravoltas interessantes ao longo de seus 10 episódios, em sua reta final a série, mesmo sem perder o fôlego, dá pequenas derrapadas. Soa um pouco forçada a inclusão de determinados encontros de personagens que claramente estão ali para entregar ao espectador algum senso de justiça. Nada que prejudique a experiência. Seu conjunto da obra revela uma produção dura como a vida, onde o caminho de alguns para se obter justiça é extremamente tortuoso.