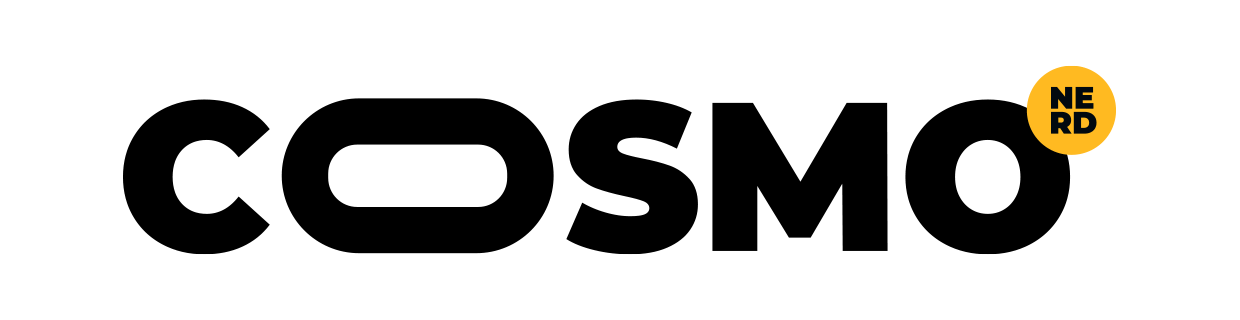Cloverfield: Monstro parecia ser apenas mais um – ótimo – filme catástrofe com monstros gigantes. O que ninguém esperava, de forma errada já que J.J. Abrams estava envolvido, é que uma série de teorias, sites virais e vídeos tomariam conta da internet. Nascia naquele momento uma mitologia, ou na linguagem sofisticada de Hollywood, uma franquia. Pegando todos de surpresa, Rua Cloverfield, 10 mostrou-se também um ótimo filme dentro desse universo, que independente de sua nomenclatura consegue construir um clima de tensão e agonia. Com algumas referências veladas e outras bastante evidentes, ampliou ainda mais o debate cibernético. Porém, The Cloverfield Paradox, ainda que cercado de mistérios e surpresas, destoa completamente de seus antecessores. Não apenas em qualidade, mas na necessidade de existir.
Na trama, a Terra está enfrentando uma grava crise energética. A única esperança é uma estação espacial que carrega um colisor de partículas. A ideia é que, ao ser ativado, possa gerar energia gratuita para a humanidade e resolver o problema de uma vez por todas. Para que o plano seja executado, uma equipe de cientistas é escalada para cuidar do projeto. O que eles não imaginavam é que a máquina causaria rupturas no tecido multidimensional, acarretando em situações esquisitas e problemas ainda maiores para a Terra. Mas não se deixe enganar pela premissa instigante. A ideia mira em filmes como Alien – O Oitavo Passageiro, mas acerta em Prometheus.
A direção de Julius Onah funciona até o momento em que não consegue vencer o atroz roteiro escrito por Oren Uziel. Os primeiros 30 minutos são recheados de uma genuína aura de tensão e curiosidade. Apesar da resposta para o tal paradoxo ser dado logo no início. Julius consegue trabalhar bem os clichês do gênero, num esforço que merece reconhecimento. Mas não demora para que as coisas saiam completamente do controle, jogando The Cloverfield Paradox numa queda vertiginosa de qualidade. Arrumar explicação para isso é realmente um desafio bem maior.
A ideia de pegar roteiros prontos e convertê-los ao selo Cloverfield é boa, já que abrange diferentes gêneros e evita redundâncias nas obras que compõem esse universo. Mas aqui quase nada funciona. É visível a forma como Oren resolveu se aproveitar da liberdade de tal prática, inflando seu texto com momentos insanos que deveriam balançar a mente do espectador. Mas a execução é falha, o que acaba gerando situações sem nenhuma inspiração, além de um humor completamente deslocado.

Isso acaba ocasionando um enorme desperdício de ótimos nomes como David Oyelowo, Daniel Brühl, Zhang Ziyi entre outros. Detalhe para a presença de John Ortiz, norte-americano de descendência porto-riquenha, como um astronauta brasileiro… Quase todos os membros da equipe não possuem nenhum aprofundamento, mostrando-se figuras completamente rasas. Quem ainda consegue fugir disso é Gugu Mbatha-Raw, a única com um arco decente. Ela consegue trabalhar bem os dilemas de sua personagem, deixando evidente para o espectador suas dores, arrependimentos e motivações.
Mas, se for analisado através do universo ao qual pertence, The Cloverfield Paradox consegue cumprir em partes sua missão. Sim, algumas respostas são dadas, além da expansão de conceitos que podem render bons frutos no futuro. Especialmente a questão de múltiplas realidades. Porém, na letra fria da lei, sua concepção não era necessária. Se fosse apenas para fornecer novas perspectivas, poderiam muito bem ter feito isso com um roteiro mais inspirado. Em tempo, a cena final é realmente divertida e impede que o longa desmorone de vez.
Não existe um cartilha de como fazer um filme de Cloverfield, mas aposto que existe uma para fazer bons filmes no geral. E essa última certamente não foi aplicada em The Cloverfield Paradox. Mesmo com toda a empolgação no anúncio feito pela Netflix, esse longa é disparado o mais esquecível da franquia. Se ao menos fosse tão bom quanto o marketing que o cerca, todos sairiam no lucro.