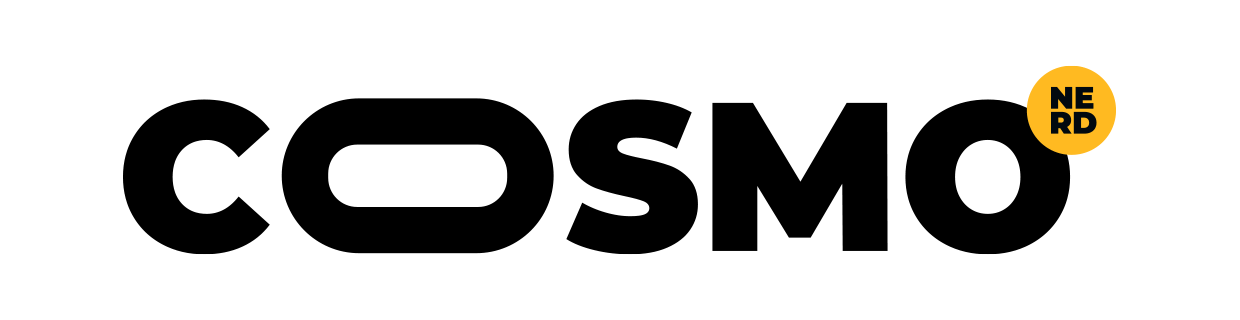Os primeiros segundos de Guerra Civil nos mostram de cara o motivo pelo qual o filme está incrível, de uma forma que vai acabar conosco: um close no rosto da nossa protagonista Lee Smith (Kirsten Dunst). Apenas com uma expressão vazia, cheia de dor, carregada de tantos sentimentos ambíguos, que se esbarram, se completam, se destroem e se perdem a atriz nos entrega absolutamente tudo e nada. E assim começa um longa-metragem sobre ciclos, sobre o perigo da chamada “polarização política”, sobre tantos temas atuais que fica difícil escolher qual vai ser abordado primeiro.
“Guerra Civil” é o retrato de um país partido, com lados lutando – e até mesmo, como é exibido ao longo do filme, pessoas que acham que nada daquilo faz parte do dia delas, mesmo morando também nos Estados Unidos (nem tão unidos agora). Lee, Joel (Wagner Moura), Sammy (Stephen Henderson) e Jessie (Cailee Spaeny) – essa última sendo aspirante à fotógrafa de guerra, fã do trabalho de Lee – se unem em uma jornada até a Casa Branca com o intuito de chegarem lá antes que destruam a capital ou matem o presidente (Nick Offerman), tudo em busca de algo único no meio das milhares de notícias trágicas diárias. Porém, durante essa corrida, mesmo com um suposto passe de imprensa que deveria lhes dar passagem livre por todo os cantos, eles nunca sabem o que podem encontrar a cada nova curva.
Apesar de falar de um futuro distópico, a verdade é que “Guerra Civil” se aproxima demais da nossa realidade para ser uma história a ser vista de forma irresponsável. A direção de fotografia, aliada a uma direção afiada e uma direção de som implacável, contam essa narrativa de forma assombrosa, que nos deixa, quase literalmente, na ponta da cadeira de tanta aflição. Cruelmente, há vários momentos de respiro entre uma cena e outra, com risos deslocados, sorrisos desajustados, lágrimas inoportunas. E muito disso discorre de forma que a balança de “Guerra Civil” se movimenta, primordialmente, entre duas personagens: Lee e Jessie.


Desde o seu primeiro momento, Lee está exausta. Ela claramente não aguenta mais. Sua apatia é apenas uma máscara para toda a dor que não consegue comportar no seu corpo, movendo-se tal qual um zumbi. Jessie parece despertar uma parte sua que estava morta, partindo nessa missão ao lado de uma jovem promissora que vê aquele mundo com olhos de assombro, os olhos da primeira vez. E ao contrário do que aconteceu quando Lee começou sozinha, ela pode estar lá para amparar e guiar a menina sobre como o mundo é cruel, para onde olhar, como mirar, descongelando em si uma parte falecida e que achou estar enterrada. Por outro lado, para Jessie tudo é assustador, mas sua determinação, jovialidade e vontade de aprender criam um contraste enorme com Lee. As duas também servem de contraponto com Sammy e Joel.
Sammy já está velho, mas ele ainda tem esperança no mundo, ainda possui aquele velho sonho de que o jornalismo vive para ajudar o mundo a conhecer a verdade, é, de certa forma, um otimista, apesar de tudo. Ao passo que Joel pode parecer um pouco bizarro para quem o vê, um viciado em violência. Ele é um homem íntegro que claramente se despedaçou mentalmente para sobreviver e que usa da adrenalina para viver o barato que dá dentro daquele ambiente doentio. Você observa a maestria do personagem de Wagner Moura em se utilizar de todos os subterfúgios possíveis para fugir da realidade sem sair dela de verdade, sem perder, honestamente, a sua alma, a sua sensibilidade para cuidar dos seus.
Uma das melhores coisas do filme é como o diretor Alex Garland conseguiu, assim como a ideia original do jornalismo, ser imparcial, de forma alguma fazendo qualquer pregação ideológica – até porque não é o ponto aqui. Em “Guerra Civil”, apesar de ter guerra em seu nome, ao contrário de filmes do gênero, não é sobre vencedores e perdedores, o lado certo e o lado errado, e sim sobre o ato em si. Sobre as pessoas. Sobre tantas coisas que não caberiam aqui. Portanto, recomendo que assistam ao filme e que estejam ao lado de alguém. Pode ser que precisem.