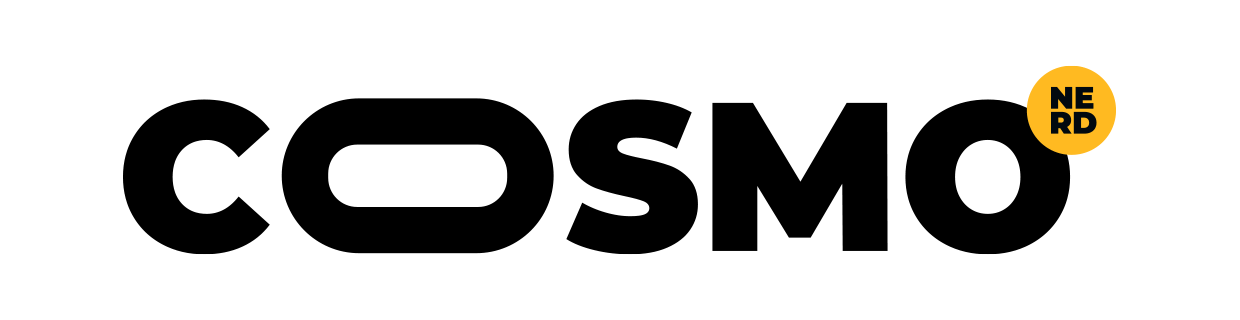Entrar na mente de Lars von Trier é certamente um desafio para a grande maioria dos espectadores, seja por considerar sua obra um tanto subjetiva ou mesmo para achar a qualidade de sua arte uma verdadeira m3rd@ pretensiosa. A Casa Que Jack Construiu (The House That Jack Built, 2018), é, para além de todo incômodo e violência, uma reflexão do dinamarquês sobre o que é a arte e sobre si, ao passo que coloca um espelho em frente à sua plateia.
“A Casa que Jack Construiu” acompanha a vida de Jack (Matt Dillon), um arquiteto e engenheiro profundamente perturbado, que se torna um serial killer. O filme é estruturado em cinco “incidentes” (ou capítulos), cada um detalhando um ato de assassinato (s) cometido por Jack ao longo de 12 anos. Narrado em forma de diálogo entre Jack e Verge (Bruno Ganz), que funciona como uma espécie de guia espiritual, o filme explora a mente de Jack enquanto ele vê seus crimes como uma forma de arte.
À medida que os crimes se tornam mais violentos e elaborados, Jack se aproxima de seu destino final, uma descida tanto metafórica quanto literal ao Inferno, onde suas ações são finalmente julgadas. A história é uma meditação sombria sobre a natureza da arte e a sua moralidade.

Pra ver ‘A Casa Que Jack Construiu’ é preciso estômago, mas depois…
Sendo assim, o grau de violência apresentado pode até ser encarado como uma espécie de cortina de fumaça para vender o filme como polêmico. No entanto, é importante ressaltar o quão complicado é assistir sem acusar o golpe: a violência contra mulher é um carro-chefe do potencial psicopático do protagonista, que também agride, ao longo da fita, crianças e animais. Não à toa, sua exibição provocou o abandono de parte do público durante a exibição de gala do filme no Festival de Cannes.
Um argumento verbalizado pelo próprio personagem de Dillon, no entanto, ajuda a dar sustentação à brutalidade do diretor de Melancolia (2011): “Algumas pessoas afirmam que as atrocidades que praticamos na ficção são, na realidade, os desejos internos do que não podemos cometer na nossa sociedade controlada”. Diálogo mais direto com o público? Só se o filme derrubasse a quarta parede. Essa arte aparentemente inconsequente é inerente ao cineasta, que chegou a ser banido em Cannes por comentários infelizes sobre nazismo numa entrevista coletiva há quase quinze anos.
Mas voltando ao longa em si, vale dizer que funciona muito bem a viagem repleta de reflexões feita por Jack com Verge para o além, numa alusão à “Divina Comédia”, obra escrita por Dante Alighieri em 1472 na qual Virgílio (inspirado no poeta italiano, autor da Eneida) guia Dante pelo inferno e purgatório. Bruno Ganz, como Verge, atua como o contraponto moral a Jack e sua presença traz uma gravidade ao diálogo, dando a estrutura central ao filme. A interação entre Dillon e Ganz é crucial para a narrativa, funcionando como uma espécie de duelo verbal que revela as profundezas da depravação de Jack. Se eu fosse elogiar mais, diria que a atmosfera dessa interação se assemelha à de Antonius Block (interpretado por Max von Sydow) com a Morte (Bengt Ekerot) no clássico “O Sétimo Selo” (1957, de Ingmar Bergman).

A casa de Lars von Trier
Lars von Trier pode não ser tão genial quanto Bergman, mas nem precisa. Para uma pessoa que luta diariamente contra a depressão, críticos e detratores, ter a capacidade de provocar tantas reflexões no público (que aceitar pagar ao doloroso preço) é digno de nota. Há uma considerável subjetividade por baixo da pilha de corpos que Jack usa para finalmente construir a sua casa.