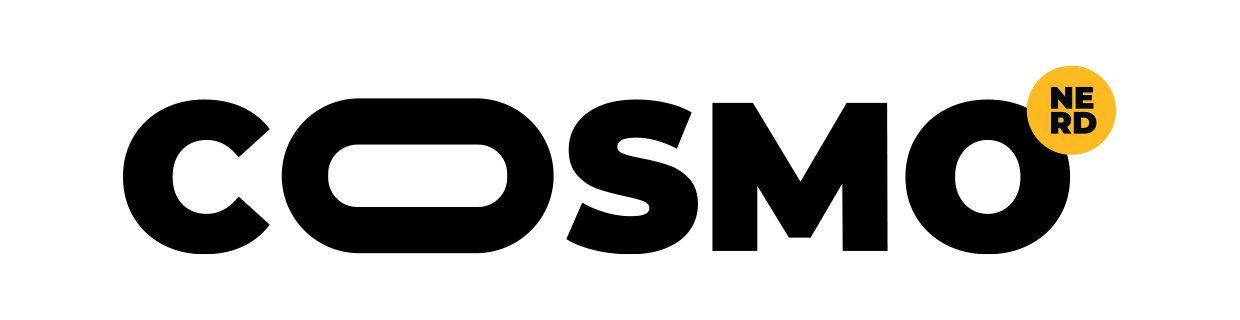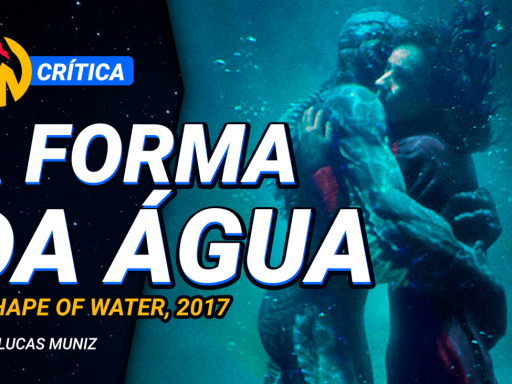Cinebiografia da ex-patinadora norte-americana Tonya Harding se destaca por quebrar com estrutura convencional
“Uma obra baseada em entrevistas livres de ironia, extremamente contraditórias e totalmente verídicas.” Com essa apresentação, o filme começa. E ela traduz exatamente a proposta do que você irá assistir: uma cinebiografia que adota um tom irreverente e não está preocupada com os fatos, mas em mostrar pontos de vista diferentes para passagens da vida de Tonya Harding.
Dirigido pelo australiano Craig Gillespie, que comandou também o ótimo A Garota Ideal e o fraco remake de A Hora do Espanto, dá para afirmar que Eu, Tonya é uma respeitável adição ao seu currículo. Como grande mérito, a ousadia de chacoalhar as estruturas do que geralmente costumamos ver em cinebiografias. Seu filme já começa dando a nós espectadores a sensação de que acompanharemos um documentário, mostrando depoimentos dos atores em seus personagens envelhecidos contando a história da patinadora que conseguiu o feito de ser a primeira norte-americana a fazer o Triple Axel, um dos saltos mais difíceis da patinação artística.
A partir de diversos pontos de vista – cabe a você julgar em qual acreditar –, o filme segue seu curso, voltando no tempo para mostrar as histórias narradas. De cara, já vemos que desde cedo a patinadora sofria abusos da mãe LaVona Golden – numa interpretação inspirada que muito provavelmente dará o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante a Allison Janney (Masters of Sex) –, que percebeu seu talento ainda pequena e não mediu esforços para ver a filha brilhar. O problema é que a bicha era bruta e distante, estabelecendo uma relação nada saudável com a criança.

Aliás, agressividade era a única linguagem que Tonya parecia conhecer. Seu marido Jeff Gillooly (Sebastian Stan), que também aparece mostrando o ponto de vista dos acontecimentos, vivia batendo e abusando psicologicamente da esposa. Tanta violência sofrida pela protagonista poderia render um pesado filme de drama, mas trilhar outro caminho é mais uma das artimanhas que Gillespie, junto com o roteirista Steven Rogers, adotam para fugir da cartilha das cinebiografias. O filme assume um humor particular, com pontuais quebras de quarta parede, mostrando Tonya em determinados momentos se voltando para nós espectadores com algum comentário que reforça sua versão sobre passagens de sua vida.
Fica evidente que a principal inspiração do diretor vem de ninguém menos que Martin Scorsese. Dele, entre outras coisas, encontramos aqui um tom que flerta com diversos de seus filmes, sua montagem cheia de estilo, uma trilha sonora com músicas que se encaixam perfeitamente às cenas e, por que não dizer, grandes atuações. E nesse quesito, outra que brilha é Margot “Arlequina” Robbie, que inclusive já trabalhou também com Scorsese em O Lobo de Wall Street. Passeando entre o humor e o drama, ela tem dois momentos perto do fim da projeção – um deles sem dizer uma única palavra – que mostram que sua indicação à estatueta foi mais do que acertada.
Concentrando grande parte de sua duração no escândalo envolvendo a acusação que Tonya recebeu em ter sido cúmplice no ataque que quebrou o joelho da atleta Nancy Kerrigan, sua principal concorrente a uma vaga nas olimpíadas de 94, o longa, mesmo com pontos de vista que se contradizem, não esconde em buscar nossa empatia pela patinadora. Anti-heroína ou não, a história de Tonya Harding nas telas é mais um desses filmes que chamam atenção por vários fatores e parecem feitos sob medida para figurar entre os indicados na temporada de prêmios de Hollywood.