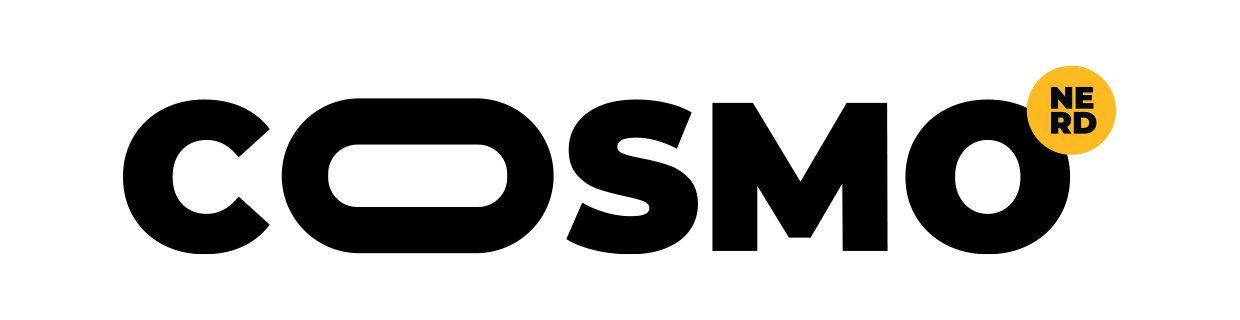Darren Aronofsky (Cisne Negro, Réquiem Para um Sonho), retorna as telonas com “Mãe!“, contando com Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer e Ed Harris no elenco. Escrito e dirigido por Aronofsky, o longa eleva os conceitos de maternidade e paternidade a níveis hiperbólicos em uma metáfora bem orquestrada e profundamente inspirada.
Somos apresentados aos personagens do núcleo principal, Mãe (Jennifer Lawrence) e Ele (Javier Bardem). Já somos bem situados no cenário que vai perpetuar ao longo da história, um take inteiro mostrando Mãe andando ao redor da Casa (sim, com “C“). Os dois protagonistas moram em local isolado, rodeado por uma floresta, onde a Casa onde habitam está sendo reconstruída pois foi avariada por um incêndio. Esse fator cria um elemento muito importante dentro da narrativa, pois exalta um elemento contraditório, como um isolamento pode atrair tantas pessoas?
Se estabelece rápido uma relação e uma química entre os dois, e já de primeira vista nota-se uma personalidade dúbia e levando a suspeita sobre o que Ele é ou o que pode fazer. Ele é um escritor e que anda tendo problemas com bloqueios criativos e passa muito tempo dedicando suas energias em busca de um novo e atraente texto, isso cria uma válvula que emite um função de provocar ao personagem diversos sentimentos: frustração, alegria, estresse e isso é refletido em boa parte do que acontece.
Recebemos em cena o Homem (Ed Harris) um médico que aparece na Casa, sem nenhum motivo aparente, entre Ele e o Homem é instaurada uma relação de coleguismo e isso já planta as primeiras dúvidas que surgem ao longo da história, por qual motivo ele está ali? Coincidência? A constante instabilidade de uma resposta concreta sobre o que permeia o que acontece é essencial, pois é um alicerce que sustenta a trama que tem como viés gerar questionamentos e diversas interpretações.
A Mulher (Michelle Pfeiffer) logo se junta a tela e esposa do Homem, ela tem uma presença de cena bastante marcante, pois possui uma pompa, abuso de hospitalidade, em outras palavras, é uma grande metida. O que resulta em um grande incomodo, aliás, todo o longa possui um grande incomodo. Desde a sua câmera, que está sempre acompanhando a Mãe, sempre com planos fechados, de uma forma intimista e reiterando sempre que a maioria dos eventos que ocorre são vistos pela sua perspectiva, em momentos até descarados.

Esse jogo de câmeras coloca os espectadores em situações cansativas, mas isso soma ao fato do que está acontecendo, a narrativa é progressiva, dos momentos mais leves e “medíocres” para as tensões e clímax se tornarem relevantes e presentes com todo o peso que deve ter. Todos esses planos fechados servem para sentirmos realmente toda a angústia, desconforto, agitação e raiva que a personagem de Lawrence sofre. A câmera sempre a acompanha, sempre. E os cortes de cena, são sempre precisos, nunca ofensivos, o diretor conduz muito bem, passeando e curtindo tudo o que pode do seu cenário, longos planos são feitos o que apresenta uma naturalidade para o não natural que está presente, e tenso isso em vista, uma experiência mais imersiva e palpável.
Juntamente com a escolha da paleta de cores que temos, são sempre tons pálidos e alguns pastéis, o que dão a sensação de tensão, medo, apatia. Agregando a esse fator, temos uma trilha sonora que compõe bem o que se passa em tela e a ausência de trilha também. Quando há a ausência de som em cena, é como se tivéssemos perdido um sentido, a audição, temos a tendência de sentir medo do desconhecido e do que não entendemos, e isso é feito de forma bastante pontual. Isso funciona para qualquer gênero de filme, agora é um artifício que tem que ser empregado com a devida responsabilidade e esmero, e Aronofsky cumpre bem os dois quesitos.
O elenco é de longe um dos maiores acertos do filme, Javier e Jennifer possuem um conforto muito grande quando estão juntos em tela, tudo deles funciona bem e de forma orgânica. Cada um poderia sustentar uma cena sozinhos e não teria problema algum, o material que é dado aos dois para trabalhar é realmente além do substancial e mostra um lado bem mais talentoso e inspirado de Lawrence.
O roteiro é uma grande e excêntrica metáfora. Como já dito, é uma história cheia de signos, símbolos, de textos e subtextos que abrem um leque gigante de interpretações. Há dois grandes momentos chaves, e são dois bem parecidos, a Casa, que é um personagem no filme, fica cheia de pessoas desconhecidas, e são os momentos de maior angústia da personagem da Mãe. Porque faz um paralelo com a maternidade, ela se dirige com as pessoas como se elas fossem crianças desobedientes, temos margem para deduzir isso, quando o olhar dos desconhecidos é sempre cheio de inocência e ao mesmo tempo que não é. A dicotomia é um conceito constante e presente em todo o roteiro. Metáforas com a própria paternidade é feita, o fato do homem abandonar a mulher e filho, ou se preocupar com o trivial em frente a sua família, é quase bíblico, aliás, é bíblico.
Algumas cenas são bem chocantes, apelando até para o gore, faz sentido dentro da narrativa, mas desnecessário, poderia ter havido uma discrição maior nessa cena em específico. É meio apelativo e bastante forte, causando um desconforto bem maior do que já é proposto pelo filme. O exagero em boas partes da trama é proposital, um recurso narrativo para emprego de firmar bem um conceito, ou conceitos, metáforas.
“Mãe!” é um filme que requer paciência, atenção e dedicação de seus espectadores, trabalho esse que ele já efetua, causando curiosidade e explorando discussões em seu subtexto complexo e inspirado. Nada mais, nada menos, em uma versão bastante resumida, do que a visão e interpretações de Darren Aronofsky para a frase “Coração de Mãe sempre cabe mais um” e todo o peso que esse ditado consigo carrega.