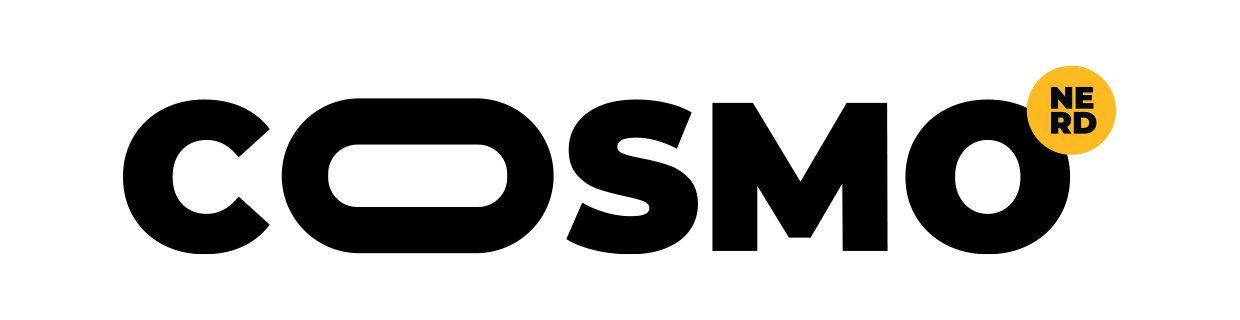Três décadas depois das lágrimas na chuva, Blade Runner 2049 chega atualizando temas e revisitando outros, enquanto desafia a lógica do cinema blockbuster
Trinta e cinco anos após a epopeia existencialista em formato cyberpunk dirigida por Ridley Scott, eis que Blade Runner ganha sua sequência. Além da justificável pergunta sobre a necessidade de uma continuação para tal obra, que se tornou cultuada apenas com o passar dos anos, Blade Runner 2049 tem a ingrata missão de dizer a que veio numa época onde seu estilo cinematográfico está em desuso e, de um modo geral, inaplicável quando tratamos de filmes com orçamento gigantesco e consequente interferência executiva.
“Após os problemas enfrentados com os Nexus 8, uma nova espécie de replicantes é desenvolvida, de forma que seja mais obediente aos humanos. Um deles é K (Ryan Gosling), um blade runner que caça replicantes foragidos para a polícia de Los Angeles. Após encontrar Sapper Morton (Dave Bautista), K descobre um fascinante segredo: a replicante Rachel (Sean Young) teve um filho, mantido em sigilo até então. A possibilidade de que replicantes se reproduzam pode desencadear uma guerra deles com os humanos, o que faz com que a tenente Joshi (Robin Wright), chefe de K, o envie para encontrar e eliminar a criança.”
“Denis Villeneuve não faz filme ruim”
Além de não fazer filme ruim, Denis Villeneuve definitivamente não pode reclamar de interferência externa em seu trabalho. Decisões como duração, ritmo e a dosagem das cenas de ação são indícios de que, gostando ou não, o espectador vai assistir um produto incólume das mazelas mercadológicas do cinema.
Pode parecer contraditório um longa com duas horas e quarenta minutos de duração não ter muito tempo de tela para alguns personagens, mas isso acaba acontecendo em Blade Runner 2049. O lado bom, no entanto, é a sintetização aplicada neles: Sapper Morton (Dave Bautista) dá o gatilho do “milagre” ocorrido, Niander Wallace (Jared Leto) criou o replicante perfeito mas quer ainda mais e Lieutenant Joshi (Robin Wright) precisa empurrar a sujeirada toda para baixo do tapete. São personagens com pouquíssimo tempo de tela, mas presentes em alma no projeto de forma integral.

É interessante a forma como Villeneuve traz, através do cyberpunk, algumas questões pertinentes ao nosso tempo tecnológico atual. Joi (Ana de Armas) representa todo o potencial que a inteligência artificial possui em nossa sociedade, podendo isso ser benéfico ou até mesmo assustador, muito parecido com o que já vimos em outros momentos com Ela (2014) e no episódio “Volto Já” da segunda temporada da série Black Mirror. Porém, não é apenas um exercício futurológico (assim como não foi nos exemplos citados): esse elemento existe no filme para reforçar a solidão de K.
Do ponto de vista artístico e técnico, o diretor conseguiu imprimir seu estilo ao universo estabelecido em 1982 com sua narrativa ascendente e os maravilhosos takes aéreos. Ao mesmo tempo, Villeneuve abraça muito bem os conceitos implementados por Ridley Scott décadas atrás, ao adaptar o livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? de Phillip K. Dick. Sendo assim, há algum espaço para a nostalgia em Blade Runner 2049. Gaff (Edward James Olmos) e seus origamis, Rachel (Sean Young), e o próprio Deckard permeiam a atmosfera de 2049 sem tomar o protagonismo de K. Destaque para a incrível cena da volta da estrela de O Caçador de Androides, sequência poética numa Las Vegas abandonada, repleta de hologramas de artistas finados como Elvis Presley.
Não espere um filme de ação. Blade Runner 2049 quer conversar com você a respeito de temas que julga pertinente de modo muito mais sensorial. Uma reflexão profunda sobre o papel de cada um no mundo, desde o João Ninguém até o escolhido. Nesse sentido, o filme de Denis Villeneuve ainda irá permear muitos debates nos próximos dias, meses e talvez anos.
Blade Runner 2049 não se apagará com o tempo.